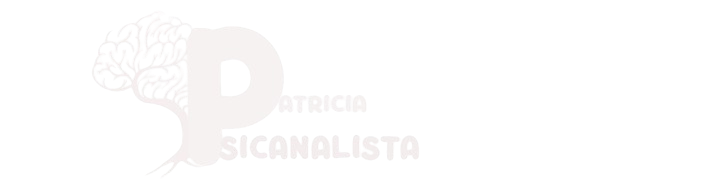Se versões distintas são admitidas no interior do campo psicanalítico, quais seriam os critérios para que o movimento psicanalítico tenha reconhecido determinadas releituras em detrimento de outras? Em primeiro lugar, o campo psicanalítico parte do pressuposto de um aparelho psíquico dividido e em conflito (tanto interno quanto em relação à realidade ou aos outros). Logo, não são admitidas como “psicanalíticas” versões holísticas ou integrativas do sujeito, que visem a harmonia de um todo ou a superação das divisões para a constituição de uma plenitude do ser. Em segundo lugar, e em consequência disso, também é fundamental que nesse processo de divisão, a prioridade seja dada ao inconsciente. Dito de outra forma, faz-se necessário que seja respeitada a tese freudiana do determinismo psíquico e da sobredeterminação do inconsciente. Mesmo as decisões tidas como conscientes se dão após os movimentos desejantes do inconsciente e recortadas pelas censuras e defesas pré-conscientes. Logo, em qualquer versão da psicanálise, repete-se o ato fundador de Freud de descentramento do sujeito que reafirma que o “eu não é senhor em sua morada”. Por fim, mas não menos importante, a psicanálise é obrigatoriamente laica. Sua inserção maior no campo do pensamento se dá na história de movimentos científicos, que se asseguram de um método e que se localizam no campo da linguagem intervindo em sujeitos no intervalo entre o nascimento e a morte. Pressuposições ou hipóteses para além ou aquém desse intervalo (a vida intra-uterina, vidas passadas, o espiritual ou outras formas sacras ou transcendentais) não são aceitas no interior da disciplina psicanalítica. Lembremos, como exemplo maior, que a psicologia analítica de Carl Gustav Jung foi criada justamente a partir da impossibilidade de inclusão no meio psicanalítico de hipóteses que envolviam concepções integrativas e/ou transcendentais.
Poderíamos dizer ainda que essas três premissas metodológicas se desdobram em algumas orientações técnicas igualmente importantes que seriam: a prevalência da fala como modo de atuação, a impossibilidade de redução do psíquico ao orgânico e o abandono da hipnose e da sugestionabilidade como meio terapêutico. Vejamos esses três pontos de forma mais detalhada: quando Freud afirma que a psicanálise se constitui como uma “cura através da fala”, uma “talking cure”, coloca-se em ação uma aposta de que seu meio de ação será o da fala e que seu método será organizado em torno de operações derivadas do campo da linguagem. Assim, não são aceitas no campo (por serem contraditórias ao método psicanalítico) abordagens que incluam ações diretas sobre o corpo (exercícios de relaxamento, massagens, acupunturas, ervas medicinais e afins) ou sobre o ambiente (tarefas designadas para a mudança de fatores do quotidiano, orientações do terapeuta dadas diretamente às pessoas que compõem a rede de contatos do analisando ou a presença do analista no convívio do analisando para fins terapêuticos). Em relação à impossibilidade de redução do psiquismo, a psicanálise trabalha alinhada com uma orientação da concepção geral de clínica: cessa a causa, cessa o efeito, logo, o tratamento deve ocorrer no mesmo âmbito da causa. Por considerar os conflitos psíquicos na causalidade dos sofrimentos e sintomas que são aptos ao tratamento psicanalítico[1], a psicanálise tem por decisão metodológica evitar a redução do psiquismo ao nível do funcionamento orgânico, especialmente, o funcionamento cerebral. Isso não quer dizer que a psicanálise não possa ser coadjuvante ou ter tratamentos medicamentosos como uma estratégia clínica suplementar. No entanto, suas teses obrigatoriamente não reduzem o psiquismo à lógica do funcionamento neuronal ou a psicopatologia a uma condição neurofisiológica. Em casos de trabalhos conjuntos, vale a regra da interdisciplinaridade ou da multidisciplinaridade, sem que haja necessidade de convergência das hipóteses causais (ou mesmo diagnósticas).